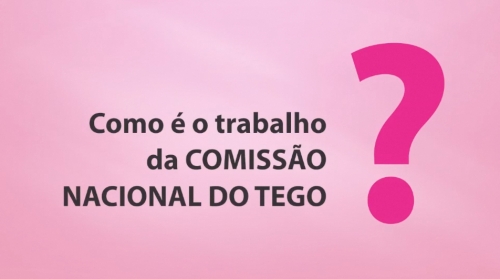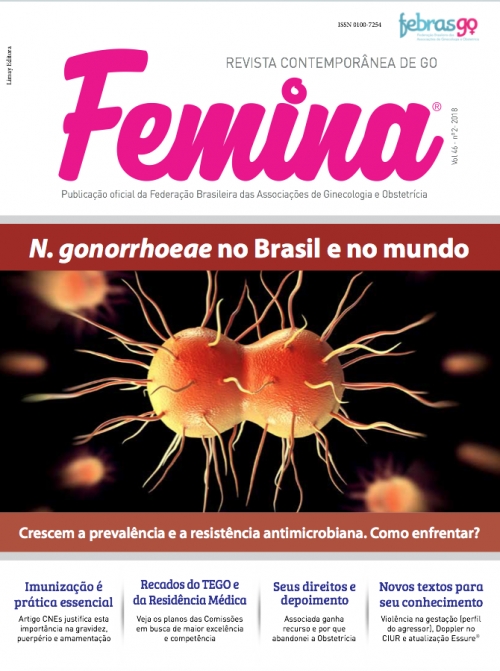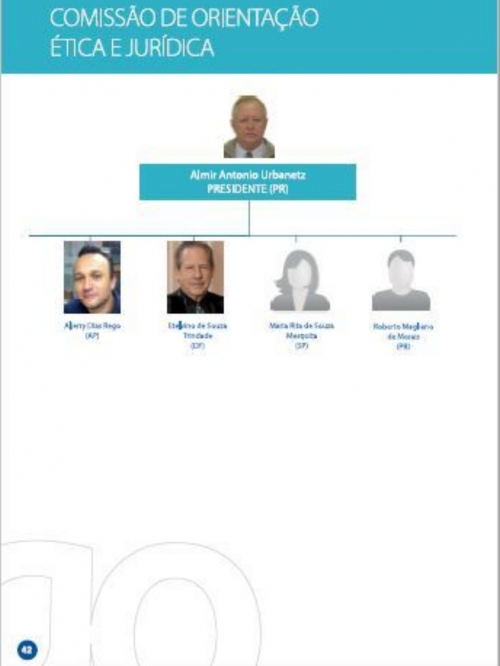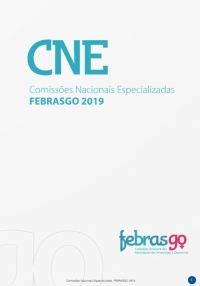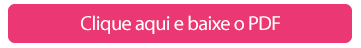Dr. Gustavo Salata Romão - Comissão de Residência Médica.
Dr. Gustavo Salata Romão, Presidente da Comissão de Residência Médica fala sobre a Matriz de Competências para orientar o processo de formação e treinamento dos residentes.
Dr. César Eduardo Fernandes - Como é o trabalho da Comissão Nacional do TEGO?
Dr. César Eduardo Fernandes, Presidente da Febrasgo fala sobre a Comissão Nacional do TEGO.
10 COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE ADOLESCÊNCIA E MENSTRUAÇÃO
As transformações do corpo da mulher na adolescência são muitas, com isso é comum surgirem dúvidas sobre essa fase. Separamos aqui 10 informações essenciais deste momento para ajudar as meninas a compreenderem o que realmente é importante sobre o assunto.
10 COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE TPM
A famosa tensão pré-menstrual é cercada de mitos. Aqui você encontra 10 tópicos sobre TPM feitos por especialistas da Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Endócrina da FEBRASGO. Acesse e conheça mais sobre o funcionamento do seu corpo.